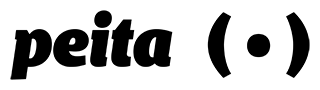"E aí quis o destino que eu tivesse uma missão tão importante quanto ser a mãe feminista de uma menina: ser a mãe feminista de um menino. Meu primeiro raciocínio foi “ok, Lívia, o mundo vai dizer ao seu filho que ele tem o direito a ser opressor e o seu papel é dizer a ele que não.”
Quando eu comecei a escrever esse texto, eu não tinha noção do tamanho do meu privilégio no quesito relações domésticas. Nas minhas revisões, parei e pensei se meu relato não era menos importante exatamente por ser privilegiado. Cheguei a pensar em não postá-lo. Conversando com amigos, concluí que o texto tem sua importância exatamente por retratar o que não se espera, infelizmente, dessas relações em nossa sociedade. Escrevê-lo me fez ver com clareza esse aspecto da minha vida e o quanto ele é importante na minha maternidade feminista.
Quando eu soube que o bebê que eu esperava era um menino eu estremeci. Não que eu tivesse qualquer coisa contra ter um menino. Jamais. Mas eu sempre imaginei o meu maternar com uma menininha.
Quando decidi me tornar mãe eu fantasiava um maternar feminista, de mãe para filha. Eu seria responsável por criar uma guerreira, uma garotinha que não ia abaixar a cabeça pra ninguém. Que ia fazer judô se quisesse, ou ballet, que ia usar laços se quisesse, ou não ia usar, se não quisesse. Eu seria a guia de uma menina que, desde sempre, aprenderia que o mundo poderia ser hostil. Mas que ela teria escolhas e liberdade de ser quem quer que ela quisesse ser.
E aí quis o destino que eu tivesse uma missão tão importante quanto ser a mãe feminista de uma menina: ser a mãe feminista de um menino. Meu primeiro raciocínio foi “ok, Lívia, o mundo vai dizer ao seu filho que ele tem o direito a ser opressor e o seu papel é dizer a ele que não.” Dureza, né? Junto com esse raciocínio me veio um medo quase que irracional de não dar conta. E eu nem sabia direito do que.
E nasceu o meu menino. E eu entendi que a minha missão com ele não é quebrar o seu espírito, mas sim abraçar e acolher a sua doçura. Uma doçura que em meninos é reprimida pelo patriarcado. E responder perguntas difíceis com o máximo de verdade que eu puder de acordo com a sua idade. E dar colo e paciência para o seu choro. E deixar ele fazer judô ou ballet, experimentar meu rímel e comprar o batom azul, que segundo ele é de menino, mesmo eu falando mil vezes a ele que cores não são de ninguém.
É claro, eu crio uma criança no mundo real. E o mundo real tem dessas coisas. Eu não gosto de rosa e o Otto assumiu, como missão para si, me convencer de que eu gosto de rosa porque sou menina. E, todas as vezes em que esse assunto aparece, lá estou eu explicando pela milésima vez que cores não têm gênero.
Ultimamente ele deu pra falar que as meninas são mais inteligentes que os meninos. Não sei de onde ele concluiu isso. Certamente não foi de algo que eu, ou o pai dele, tenhamos dito. E lá estou eu explicando para ele que todas as pessoas têm inteligências diferentes que nada têm a ver com gênero.
Ao mesmo tempo, ele nunca torce por mim quando jogo videogame contra o pai dele e fica muito mais bravo quando perde de mim do que do pai. Com isso eu confesso que ainda não sei como lidar, porque não consegui identificar a raiz dessa preferência/implicância.
"Concluo que meu maternar seria praticamente o mesmo independente do gênero do meu bebê. Porque, no fim das contas, criar alguém tem muito mais a ver com exemplo do que com discurso.
Então, há questões a desconstruir? Sempre há. Porém, concluo que meu maternar seria praticamente o mesmo independente do gênero do meu bebê. Porque, no fim das contas, criar alguém tem muito mais a ver com exemplo do que com discurso. E sei que parte importante do meu feminismo enquanto mãe está na equidade da minha relação com o pai dele. E isso, com certeza, não depende só de mim.
É preciso um seio familiar feminista para a desconstrução ser menos discursiva e mais na base do exemplo. Não estou dizendo que um seio familiar machista não vá dar frutos feministas. Estão aí várias gerações de feministas criadas nos piores valores do patriarcado para comprovar isso. Mas creio que um ambiente em que há a intenção de igualdade e em que não há medo do diálogo sobre assuntos espinhosos do patriarcado é onde os pequenos feministas podem florescer sem medo para enfrentar o mundo hostil que os aguarda.
Pensando sobre essa equidade fica impossível para mim não pensar sobre uma das coisas em que mais penso na minha vida: o serviço doméstico. Esse sim, eu acredito que tem um papel fundamental na criação das crianças.
No meu processo de criar uma criança é impossível não revisitar minha infância. Repetir o que eu gosto. Mudar o que eu discordo do que foi feito comigo. E a relação com o serviço doméstico é uma das coisas que mais me esforço para ser um exemplo diferente do que me foi dado pelos meus pais.
Ambos vindos de famílias “bem de vida”, tinham uma não-relação com o serviço doméstico. Tirando o cozinhar, meus pais não faziam absolutamente nada em casa. Nunca sequer aprenderam. Tudo era terceirizado. E eles não percebiam o quanto foram privados e estavam privando seus filhos quanto a duas coisas básicas: autonomia e responsabilidade.
É um super privilégio poder sempre pagar alguém para limpar a sua sujeira. Mas você já pensou em como gerações de privilegiados que não sabem passar um pano no chão impactam negativamente nossa sociedade?
Eu cresci assistindo aos meus pais tendo uma relação com os serviços domésticos como se eles fossem uma espécie de castigo. E uma espécie de castigo que tinha uma conexão total com a tal meritocracia. Cresci ouvindo que eu tinha que ir bem na escola para fazer faculdade e ter uma carreira, porque, somente com uma carreira, eu poderia pagar para alguém fazer o meu serviço doméstico.
Quando eu saí da casa da minha mãe para morar com o meu companheiro eu tinha 24 anos e, com exceção de cozinhar e lavar a louça, eu nunca tinha feito absolutamente nada em uma casa. O meu companheiro me ensinou a lavar roupa, limpar banheiro, passar pano, varrer. Eu tive a sorte de me deparar com um homem que não performava inutilidade (obrigada, sogra). Mas carreguei por muitos anos o fardo de fazer os serviços domésticos com um sentimento de fracasso pessoal. Afinal, aprendi desde a mais tenra idade, que se eu não pagava alguém para fazer aquilo para mim era porque eu não venci na vida.
Quando me tornei mãe (e com muita terapia), eu comecei a fazer a conexão entre a minha relação com o serviço doméstico e a sensação de insatisfação pessoal que era meu gatilho para quadros depressivos. E decidi que eu não queria que o meu filho tivesse essa relação ruim com uma coisa que, afinal, é a base do cotidiano de todas as famílias.
É claro que eu não amo lavar chão, é claro que o serviço doméstico é cenário de disputas de poder na minha casa. É óbvio que meu filho não junta um brinquedo do chão do quarto sem ser mandado e com muitas reclamações e desculpas do tipo “meus braços estão cansados”. Mas a relação que nós criamos com o serviço doméstico é completamente diferente da que eu vivi na infância. É uma relação de responsabilidade. Não de castigo.
Meu filho desde sempre viu seu pai cozinhando e limpando, assim como me vê cozinhar e limpar. Vê eu e o pai dele saindo para trabalhar. Trabalhando em casa. E, o que eu considero a mais revolucionária e simples medida: entende que o trabalho doméstico é sim um trabalho, e é dos mais importantes.
Quem está limpando um banheiro não pode ser interrompido, do mesmo jeito que ele não pode interromper uma reunião online. Ele interrompe as duas coisas igualmente, lógico, mas pelo menos sabe que é errado nos dois casos.
Era sobre feminismo e maternidade, virou um tratado sobre serviço doméstico e meritocracia. Desculpem, não consigo separar esses assuntos. Porque no meu feminismo materno a equidade é o cerne. E, infelizmente, no campo do serviço doméstico, estamos muito longe da equidade quando falamos do mundo real fora das nossas bolhas privilegiadas.
Parte do meu trabalho de criar um homem para o mundo passa por essa relação dele com o serviço doméstico. Se ele fosse uma menina eu também a ensinaria a fazer as mesmas coisas, mas não para fazer isso para os outros, como demandam os valores em que nossa sociedade se funda, e sim para si mesma. Afinal, autonomia é liberdade. E essa autonomia me foi negada por muitos anos.
"A Lívia mãe entendeu uma coisa que a Lívia não mãe não sabia: a gente tem que se educar e educar quem vive na nossa rotina pra educar os nossos pequenos."
E eu não tenho mais medo de criar um menino. Claro, sempre há o que desconstruir, ajustar, dialogar, acolher e mudar. Mas a Lívia mãe entendeu uma coisa que a Lívia não mãe não sabia: a gente tem que se educar e educar quem vive na nossa rotina pra educar os nossos pequenos. Não estou falando que é tarefa fácil (nada no feminismo e na maternidade é), mas se não corrigirmos o nosso comportamento e o comportamento daqueles que estão no dia-a-dia das crianças, de muito pouco adianta o discurso para elas.
Então, sim, eu fico incomodada com o discurso de “rosa é para meninas e azul é para meninos”, mas, quando eu vejo o meu menino indo pegar um pano de chão para limpar algo que ele mesmo derrubou no chão sem nem pensar que poderia me chamar para isso, eu sinto orgulho. Orgulho em saber que eu estou criando alguém autônomo e que não associa esse serviço ao gênero das pessoas da casa, mas sim à responsabilidade (ai, que mãe babona).
Nenhum discurso que nossas crianças encontrem no mundo será mais forte do que o que elas vivenciam no dia-a-dia com aqueles que as amam. O meu maternar feminista mora aí. Eu não preciso quebrar um desejo do meu menino de ser opressor em razão do seu gênero, porque ele nem mesmo sabe (ainda) o que é isso. E talvez ele nunca saiba. Porque não há nada melhor pro mundo do que um futuro feminista.
( • )

Lívia Farah é mulher de luta, de colo e de choro, que aprende todo dia a enfrentar o mundo com mil demandas na cabeça e um filho à tiracolo.
( • )
peita.me
@putapeita
/putapeita