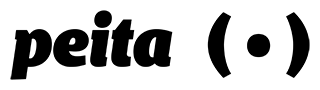Megg Rayara Gomes de Oliveira
Travesti preta, doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná.
No meu cantinho,
Na minha cadeirinha,
Eu posso ser o que eu quero ser!
Nas asas da minha fantasia
Eu posso voar para um novo mundo
E o mundo irá abrir os braços pra mim…
(Jess Jennings, 2007)
As cores rosa e azul representam, de forma bastante específica, em várias culturas, os universos feminino e masculino respectivamente, a fim de informar, ainda antes mesmo de nascer, a maneira correta como cada criança deve ser tratada. Isso a fim de fortalecer os elementos constitutivos de sua feminilidade ou masculinidade, associados diretamente ao seu sexo biológico. Rogério Diniz Junqueira¹ (2009, p. 20) usa os estudos de Elisabeth Badinter e de Gláucia Eliane Silva de Almeida para afirmar que a masculinidade é considerada algo a ser duramente conquistado pelos indivíduos do sexo masculino, ao passo que a feminilidade é percebida como um componente natural da mulher. Já no trabalho de César Sabino, também estudado por Junqueira (2009), a masculinidade está associada a demonstrações de força, destemor e virilidade, construídas em contraposição a determinadas características tidas como femininas.
Assim, os códigos de conduta ensinados às crianças estabelecem que “o único lugar habitável para o feminino é em corpos de mulheres, e para o masculino, em corpos de homens” (Berenice Alves de Melo BENTO, 2008, p.25), premiando os normatizados com respeito e oportunidades, e castigando os diferentes com desprezo e obstáculos (William PERES, 2009, p. 237), expondo, de forma bastante objetiva, que em sociedades patriarcais não há outra possibilidade além do ajustamento.
É a família heteronormativa, ou seja, aquela definida pela prática do“sexo bem educado ou normatizado, isto é, as práticas heterossexuais, monogâmicas, consolidadas pelo matrimônio e reprodutivas” (Maria Rita de Assis CÉSAR, 2009, p. 43), o modelo de organização social que deve ser preservado. Para tanto, as pessoas precisam ser ensinadas, desde muito cedo, a agir de modo que consigam reproduzi-lo no futuro.
Essa é a visão das igrejas cristãs, que ao longo do tempo têm se esforçado para impor padrões únicos de comportamento que tomam a cis² heterossexualidade como modelo único de existência. À medida que a sociedade muda e propõe rupturas, o discurso religioso se atualiza, bem como seus mecanismos de controle.
Em 1997 o cardeal Joseph Aloisius Ratzinger, atual Papa Emérito Bento XVI, reforçava em seus escritos que a biologia determinaria o gênero e que a “liberação da mulher serve de centro nuclear para qualquer atividade de liberação tanto política como antropológica com o objetivo de liberar o ser humano de sua biologia” (RATZINGER, 1997, p. 142). Ratzinger dava, então, o pontapé inicial para o surgimento de um debate que hoje é conhecido por ideologia de gênero.
Na definição de Jorge Scala, discutida por Richard Mikolski e Maximiliano Campana (2017), a ideologia de gênero é um instrumento político-discursivo de alienação com dimensões globais, que busca estabelecer um modelo totalitário com a finalidade de “impor uma nova antropologia” para provocar a alteração das pautas morais e desembocar na destruição da sociedade.
Ao dirigir um ataque às lutas feministas e apontar o caminho para o desenvolvimento do conceito de ideologia de gênero, o cardeal Ratzinger procurava atingir, de acordo com Mikolski e Campana (2017), a Conferência Mundial de Beijing sobre a Mulher, organizada pelas Nações Unidas, em 1995, pela ousadia de propor substituir o termo “mulher” (que havia sido o principal sujeito nas três conferências que antecederam essa) pelo conceito de “gênero”, possibilitando que essa categoria fosse ampliada, não se restringindo apenas a questões biológicas.
Assim, “nessa conferência se reconheceu que a desigualdade da mulher é um problema estrutural e só pode ser abordada de uma perspectiva integral de gênero” (MIKOLSKI; CAMPANA, 2017, p. 727), chamando a atenção para a necessidade de olhar para os múltiplos sujeitos que expressam identidades femininas, como travestis e mulheres transexuais.
Tais declarações
colocaram a categoria “gênero” no centro dos debates que giravam em torno do papel da mulher, provocando uma importante reação por parte de diversos setores religiosos conservadores e, em especial, da própria Igreja Católica. Assim, por causa dessa conferência, o papa João Paulo II, em sua “Carta às mulheres”, se referiu à necessidade de defender a identidade feminina desde uma perspectiva essencialista e, alguns anos depois, na “Carta aos bispos”, de 31 de maio de 2004, manifestou-se contra o discurso feminista, reiterando que a maternidade era um elemento-chave da identidade feminina (ponto 13). (MIKOLSKI; MAXIMILIANO, 2017, p. 727)
Ao destacar a maternidade como um elemento essencial da identidade feminina, o Papa João Paulo II assumia uma posição em relação a travestilidade e a transexualidade, concordando com as situações de exclusão e violação de direitos que recaiam sobre elas. Ao fugir dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade, travestis³ e transexuais⁴ são expostas a situações de discriminação e exclusão, podendo desenvolver estratégias de resistência para garantir seu direito de ser ou então buscando meios para uma adaptação que garanta ao menos sua sobrevivência, quase sempre caracterizados por discursos e atos de submissão e passividade (PERES, 2009).
No caso da criança transexual, existe ainda o agravante de que ela pode ser vista como portadora de uma patologia, que precisa e deve ser tratada, passando por experiências que evidenciam o quanto está em desacordo com os padrões pré-estabelecidos e como é necessário que altere sua forma de pensar e agir para que possa adequar-se ao sexo anatômico e assim levar uma vida “normal”.
As cobranças impostas às crianças transexuais partem de vários segmentos de nossa sociedade – da família, da igreja, dos vizinhos, da escola, etc. – restando pouco ou nenhum espaço para que elas possam se construir como sujeitos. Isso é ainda mais evidente quando suas reivindicações em adotar uma identidade de gênero diferente do sexo biológico são ignoradas, tratadas apenas como meras fantasias infantis, já que, de modo geral, a infância está subalternizada em relação ao mundo dos adultos (Manuel SARMENTO; Maria Cristina Soares de GOUVEA, 2008, p. 19).
Essas questões são observáveis no filme Minha vida em cor-de-rosa5 (Ma vie en rose), de 1997, uma produção cooperativa entre Bélgica, França e Reino Unido, dirigida pelo belga Alain Berliner. O filme conta a história de Ludovic Fabre, uma menina transexual6 de sete anos de idade. Embora seja uma obra de ficção, apresenta fortes semelhanças com a infância de muitas mulheres transexuais. Porém, acredito na possibilidade de outras formas de relacionamento entre crianças transexuais e sua família, escola e com a sociedade de um modo geral. Por isso, vou estabelecer diálogo entre o filme e o documentário Meu eu secreto (My secret self), produzido e apresentado pela Rede ABC de televisão dos Estados Unidos da América em 2007, que também discute transexualidade na infância. As histórias reais de duas meninas transexuais, Jess Jennings e Riley Grant, narradas no documentário, serão utilizadas para dialogar com as situações vivenciadas pela personagem fictícia Ludovic Fabre no filme Minha vida em cor-de-rosa.
Ambas as produções, embora tenham finalidades distintas, são consideradas como meios de comunicação de massa justamente por estarem disponíveis “a uma pluralidade de receptores” (John B. THOMPSON, 2009, p. 287) e estão inseridas “dentro de uma teoria do cinema queer, termo surgido no final dos anos de 1970/80, posterior aos genders studies, justificando a alta permeabilidade e artificialidade entre as identidades de gênero” (Alisson MACHADO, 2011, p. 11).
Queer, que não possui equivalente exato na língua portuguesa, “pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário” (Guacira Lopes LOURO, 2004, p. 38). Para Judith Butler (2002, p. 58), apontada como uma das precursoras da teoria queer, o termo tem operado como uma prática linguística com o propósito de degradar os sujeitos aos quais se refere: “queer adquire todo o seu poder precisamente através da invocação reiterada que o relaciona com acusações, patologias e insultos”. Por isso, a proposta foi dar um novo significado ao termo, de positivá-lo, passando a entender queer como uma prática de vida que se coloca contra as normas socialmente aceitas.
Queer, então, pode ser interpretado como um processo, um movimento, e aproxima-se das reflexões de Michel Foucault (1979) sobre o conceito de dispositivo. Para ele, todo dispositivo “é sempre um dispositivo de poder” (Sueli Aparecida CARNEIRO, 2005. p. 38), um meio pelo qual determinados sujeitos ganham visibilidade quando são interpretados como o contraponto da ordem.
Assim, o conceito de dispositivo procura demarcar
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. “O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos. Em segundo lugar, gostaria de demarcar a natureza da relação que pode existir entre estes elementos heterogêneos. Sendo assim, tal discurso pode aparecer como programa de uma instituição ou, ao contrário, como elemento que permite justificar e mascarar uma prática que permanece muda; pode ainda funcionar como reinterpretação desta prática, dando-lhe acesso a um novo campo de racionalidade. Em suma, entre estes elementos, discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de funções, que também podem ser muito diferentes. Em terceiro lugar, entendo dispositivo como um tipo de formação que, em um determinado momento histórico, teve como função principal responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante”. (FOUCAULT, 1979, p. 244).
No entanto, o mesmo Foucault (1982) que consegue perceber uma infinidade de mecanismos de controle, como o discurso da ideologia de gênero, operando de forma coordenada e simultânea, também identifica mecanismos para sua contraposição e afirma que onde há poder, há resistência.
-------------
Trecho do artigo de Megg Rayara Gomes de Oliveira. Travesti preta, doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná. Leia o artigo completo aqui.
-------------
1. Por defender uma educação não sexista, além de utilizar o gênero feminino e masculino para me referir às pessoas em geral, na primeira vez que há a citação de um/a autor/a, transcrevo seu nome completo para a identificação do sexo (gênero) e, consequentemente, para proporcionar maior visibilidade às pesquisadoras e estudiosas.
2. Cis é a abreviação de cisgênero. A noção de cisgeneridade é proposta pela transexual Julia Serano, em 2007, na obra Whipping girl: a transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity. “A partir do exercício de analisar a origem da terminologia – trans-: o outro, o desajuste. Ligações químicas cruzadas espontaneamente, de forma inesperada. O oposto disso, o termo -cis-, também existe no campo da química orgânica: seria a ligação química esperada, a mais comum de se ocorrer entre os elementos. A ligação química “normal”. Porém, as moléculas da química orgânica são imprevisíveis. Assim como as subjetividades são imprevisíveis. Portanto, a cisgeneridade indica a existência de uma norma que produz efeitos de ideal regulatório, ou seja, efeitos de expectativas e universalização da experiência humana. Em termos gerais, o que diferentes ativistas e os movimentos transfeministas têm proposto é que a norma cisgênera é uma das matrizes normativas das estruturas sociais, políticas e patriarcais, cujos ideais regulatórios produzem efeitos de vida e de atribuição identitária extremamente rígidos. A atribuição identitária, de forma compulsória no momento de registro de cada pessoa, define e naturaliza a designação de uma pessoa a um dos polos do sistema de sexo/gênero ao nascer, a partir de uma leitura restrita, baseada na aparência dos órgãos genitais. Além disso, a norma cisgênera afirma que essa designação é imutável, fixa, cristalizada ao longo da vida da pessoa.” (Maria Luiza Rovaris CIDADE, 2016, p. 13-14).
3. Travesti é a pessoa que vivencia papel de gênero feminino, mas não se reconhece como homem ou como mulher, e sim como membro de um terceiro gênero ou de um não-gênero (Jaqueline Gomes de JESUS, 2012, p. 17).
4. Mulher transexual é toda pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como mulher (JESUS, 2012, p. 15).
5. A escolha desse filme se deu por ter sido lançado no mesmo ano em que o cardeal Joseph Aloisius Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, iniciou o debate que hoje é conhecido como ideologia de gênero.
6. Neste artigo, reconheço a identidade feminina de Ludovic Fabre por entender que está perfeitamente consolidada em seu discurso, embora seja submetida a um tratamento no gênero masculino pela sociedade onde está inserida.